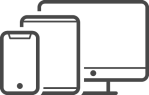O Brasil tem a sua política constantemente influenciada por grupos religiosos. Esse fato ficou ainda mais evidente após a decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no começo de abril. Kassio Nunes Marques permitiu a realização de cultos e missas em espaços religiosos mesmo com as restrições impostas por estados e municípios para tentar conter a pandemia. Contestada pelo plenário do STF, a decisão do ministro teve o apoio do advogado-geral da União, André Mendonça, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e do Procurador-Geral da República (PRG), Augusto Aras. Mesmo assim, acabou derrotada por 9 votos a 2 no STF.
Essa influência da religião na vida política se dá sobretudo pelos setores evangélicos, que correspondiam a 6,6% da população em 1980 e, 30 anos depois, já representavam mais de 20%. Mas, segundo a Constituição, o Brasil é um Estado Laico, ou seja, os interesses religiosos não podem (ou não deveriam) interferir nas decisões governamentais.
Para entrar neste debate, precisamos entender a relação entre religião e política no Brasil.
Brasil católico

Até a publicação da primeira constituição republicana do Brasil, em 1891, o país tinha o catolicismo como religião oficial, conforme estabelecido na carta constitucional de 1824, a primeira do Brasil independente. A união entre Estado e Igreja tinha grande repercussão na vida dos brasileiros. A Igreja era, por exemplo, responsável pelos registros de nascimento e morte no país.
Mas o estabelecimento do Estado laico não diminuiu a influência da Igreja Católica no país. Embora não fosse a religião oficial do Brasil, o catolicismo manteve grande influência nos valores que norteavam o país – e a vida política. Essa influência se fez sentir em momentos determinantes, como na crise dos anos 1960 que levou ao golpe de 1964. A queda de Jango teve apoio fundamental da Igreja Católica, simbolizado na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A presença da Igreja também se fez sentir na direção oposta durante o período ditatorial por meio das comunidades eclesiais de base. A influência dos setores católicos progressistas seria fundamental na formação de uma massa crítica contra a ditadura e na formação do Partido dos Trabalhadores (PT).
Crescimento dos evangélicos

É precisamente neste momento da redemocratização, nos anos 1980, que o Brasil começa a deixar de ser um país eminentemente católico para tornar-se um país cristão. A população evangélica, entre 1980 e 1992, sobe de 6,6% para 9%. Em 2000, para 15,4%. Dez anos depois, para mais de 20%.
Esse crescimento da população evangélica, que ocorre inicialmente em regiões periféricas dos centros urbanos e logo se expande para regiões centrais das cidades, vem acompanhado por sua presença crescente na política brasileira a partir dos anos 1990.
Os evangélicos e os progressistas

Em 1998, o Rio de Janeiro, segundo maior estado brasileiro, elege um governador evangélico, Anthony Garotinho (à época no PDT). Sua vice era a ex-senadora do PT, Benedita da Silva. Com um governo baseado em políticas sociais, Garotinho elege sua mulher, Rosinha Garotinho (PSB, na ocasião), como sua sucessora e tenta a Presidência da República. Termina a eleição em terceiro lugar.
Este, no entanto, não era o final da linha para os evangélicos, que compunham a chapa vencedora das eleições de 2002: sim, falo da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tinha como candidato a vice o empresário José Alencar, filiado ao Partido Liberal (PL), ligado à Igreja Universal.
A agremiação, em 2005, se transformaria no PRB – Partido Republicano Brasileiro e estaria novamente na chapa de Lula para as eleições de 2006. A TV Record, do Bispo Edir Macedo, seria, por sua vez, peça fundamental na estratégia de comunicação do governo Lula, em permanente confronto com a TV Globo e órgãos da imprensa tradicional. Essa parceria só seria desfeita em 2016, na época do impeachment de Dilma Rousseff.
Evangélicos versus progressistas

É no primeiro governo Dilma Rousseff que a relação do PT com os representantes de setores evangélicos começa a entrar em crise. Primeiramente, com a oposição do então deputado federal Jair Bolsonaro (PP), ao “Escola sem Homofobia”. Ele chamou jocosamente o programa de de “kit gay”, acusando-o de ser um instrumento de doutrinação das crianças em escolas.
O projeto foi abortado pelo Governo Federal. Conforme mostra o levantamento do escritor João Silvério Trevisan no livro “Devassos no Paraíso”, a bancada evangélica derrubou também uma campanha de prevenção ao HIV/Aids voltada à população LGBT. Em 2013, o deputado federal Marco Feliciano assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, tradicionalmente presidida pelo PT. O evento foi um marco na relação entre o PT e os setores evangélicos da política, que, todavia, permaneciam junto ao governo.
Com a crise a partir de 2014 – gerada pela eclosão da Lava Jato e pela recessão econômica – os setores evangélicos da política afastaram-se do PT. O principal representante desse período é o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB). O ex-ministro da Pesca do governo Dilma, que obteve apoio informal do PT em sua candidatura ao governo fluminense em 2014, Marcello Crivella, elegeu-se prefeito do Rio em 2016 em oposição à esquerda. Os setores políticos evangélicos apoiaram o impeachment e, em 2018, aderiram à candidatura de Bolsonaro, pela afinidade de sua agenda com as pautas morais da maioria das agremiações e igrejas evangélicas. Isso acabou se revelando no voto: sete em cada 10 evangélicos votaram em Bolsonaro em 2018.
Esse setor – que tem sua influência representada, sobretudo, pela ministra Damares Alves – continua a ser um braço importante de apoio ao presidente da República, sobretudo num momento de perda da popularidade. Razão pela qual o governo se empenhou tanto pela reabertura das igrejas em plena pandemia.